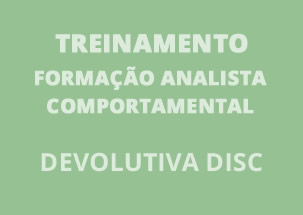Publicado por Redação em Notícias Gerais - 05/11/2015
Série inédita brasileira mostra salto da desigualdade no começo da ditadura
Com método de Piketty, estudo de Pedro Ferreira de Souza constrói histórico desde 1927

É preciso crescer o bolo para depois distribuí-lo. O debate sobre a frase clássica da ditadura brasileira para explicar o salto da desigualdade na década de 1960 acaba de ganhar um novo capítulo. Série histórica inédita sobre a concentração de renda nas mãos do 1% mais rico da população do Brasil, de 1927 a 2013, mostra que a acumulação de renda no topo da pirâmide deu um salto nos primeiros anos de regime militar. Os novos números identificam um aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres antes do milagre econômico. Ou seja, não foi apenas em decorrência do crescimento acelerado da economia iniciado em 1968 —e da demanda insatisfeita por trabalhadores mais qualificados provocado por ele— que a alta da desigualdade se deu. As medidas dos anos de recessão e o ajuste do começo do período, que incluíram isenções fiscais, arrocho salarial e repressão a sindicatos, foram determinantes para a reversão rápida, entre 1964 e 1968, de uma trajetória de queda da disparidade.
Em 1965, a fração recebida pelo 1% mais rico, considerando apenas os rendimentos tributáveis brutos (só o passível de pagar tributo), era cerca de 10% do bolo total. Apenas três anos depois, a cifra vai a 16%. Em outras palavras, se em 1965 o 1% mais rico ganhava cerca de 10 vezes a renda média do país, em 1968 esse número subiu para 16 vezes. É a partir desse patamar, já alto, que durante o milagre, a disparidade segue aumentando.
As conclusões acima fazem parte dos resultados preliminares do estudo feito por Pedro Ferreira de Souza, pesquisador do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e da UnB. Souza integra um núcleo pioneiro do estudo da desigualdade no Brasil, que vem usando, pela primeira vez sistematicamente, informações das declarações do Imposto de Renda de quase um século de registros tributários brasileiros. Ao lado de Fabio Castro e do orientador Marcelo Medeiros (UnB e IPEA), utiliza a mesma metodologia do francês Thomas Piketty, que deu novo impulso ao debate global sobre as consequências econômicas e sociais da desigualdade com seu livro O Capital do Século 21 (2014).
Piketty não tratou de Brasil em seu livro —há dados apenas de Argentina e algo da Colômbia— e a maior parte da reflexão do francês está voltada às economias desenvolvidas. Por isso, os dados de Souza também ajudam a inserir a economia brasileira e da América Latina nos novos estudos sobre a desigualdade e a trajetória dela no tempo. O pulo do gato desta linha de pesquisa está em, ao usar dados do imposto de renda, corrigir distorções na medição de desigualdade que aparecem quando se utilizam pesquisas de amostragem como a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE. No Brasil e no resto do mundo, esse tipo de pesquisa acaba subestimando a renda dos ricos: quer porque eles são menos acessíveis, quer porque têm menos habilidade ou intenção de falar de maneira precisa sobre seus ganhos.
"A emergente literatura sobre 'top incomes' (a concentração de renda no topo) conseguiu operar uma mudança nas interpretações da desigualdade nos países desenvolvidos. A ambição da análise dos meus dados é contribuir para isso no Brasil. Mudar o ponto de vista ajuda tanto a iluminar novas dimensões de antigos fenômenos quanto a revelar mudanças e características até então pouco visíveis”, escreve Souza.
Um debate acalorado
Com seus dados sobre o período da ditadura, o pesquisador de 33 anos está enveredando por uma discussão que movimentou os principais nomes da literatura econômica do país nos últimas décadas. Foi um debate extremamente acalorado nos anos 70, quando saíram os dados do Censo daquele ano. As cifras registraram, em comparação ao Censo de 60, uma alta da desigualdade.
Numa época de polarização ideológica e rejeição à ditadura, duas principais correntes se firmaram. De um lado, estavam o brasileiro Rodolfo Hoffmann e o americano Albert Fishlow que apontavam para o arrocho salarial —o salário mínimo, já descontada a inflação, perdera 20% do seu valor real entre 1964 e 1967—, além da repressão, como fator de importância na desigualdade. O outro lado se firmaria em 1972, quando veio à luz o hoje clássico estudo de Carlos Langoni, que seria depois presidente do Banco Central nos anos 80. Usando dados exclusivos do Censo e outros dados tributários cedidos pelo então ministro Delfim Netto, Langoni usou a chamada teoria do capital humano para apontar o nível de educação como principal fator isolado para explicar o aumento da desigualdade. Como o Brasil crescia a taxas altas no milagre, a demanda por profissionais qualificados era maior que a oferta deles no mercado, forçando o aumento dos salários e, portanto, da renda, dos que estavam nesse topo.
Obviamente, nenhuma das duas correntes explicava o todo, ainda mais quando se levaria tempo até ter dados organizados e anuais. Para complicar o panorama, a ditadura viu no estudo de Langoni um meio de construir a narrativa do “bolo em crescimento”, o que carimbaria a análise dele por muito tempo.
"A filosofia do ministro pode ser assim entendida: se a riqueza nacional cresce de 100, não é possível distribuir senão esses 100; daí uma política ter que optar: quem ficará com essa nova fatia, ou com a maior parte dela? A resposta é esta: o assalariado vai querer ganhar mais apenas para consumir; a empresa desejará maiores lucros para investir, criar novas fábricas, novos empregos, de que o país precisa – logo, ela tem prioridade”, escreve a revista Veja em 1972 sobre a filosofia de Delfim Netto citando o trabalho de Langoni. Pelo texto, o jornalista Paulo Henrique Amorim ganharia o Prêmio Esso, o mais prestigioso do jornalismo.
Na interpretação de Souza, a série histórica da desigualdade no Brasil que ele produziu faz o debate pender para Fishlow e Hoffmann quase quatro décadas depois. “Tudo mudou muito rapidamente após a ruptura institucional em 1964 e não há nenhuma explicação melhor para o salto da desigualdade. A solução que a ditadura deu para a crise econômica e fiscal de 1964 a 1967 foi fazer um ajuste recessivo brutal. Por vários caminhos, as decisões político-econômicas diminuíram o custo do trabalho e aumentaram os ganhos de capital”, descreve o pesquisador.
A questão está longe de soar ultrapassada. No prefácio da terceira edição do estudo de Langoni lançado em 2005, outro expoente do estudo da desigualdade do Brasil, Marcelo Neri, da FGV e ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos sob Dilma Rousseff escreve: "Ouso dizer que o estudo de Langoni não foi superado. Seja pela atualidade da técnica utilizada (...), seja pelos resultados substantivos, que permanecem tão atuais quanto antes".
"A ironia da história é que o argumento de Langoni pode ter sido relativamente pouco relevante para entender a mudança na desigualdade na década de 1960, mas certamente é relevante, pelo menos parcialmente, para entender os níveis e tendências da desigualdade no Brasil nas últimas décadas”, diz Souza, que passou o último ano na Universidade da Califórnia (Berkeley), sob a supervisão do francês Emmanuel Saez, parceiro de Piketty.
Com a série histórica, Souza não joga luz apenas no imbróglio da ditadura. Em seu trabalho, o pesquisador relaciona os ciclos políticos brasileiros e a desigualdade. Houve aumento dela durante a Segunda Guerra Mundial, quando a incipiente indústria nacional foi beneficiada pela forçada substituição de importações. No período depois e até a chegada na ditadura, há queda no índice, que chegou ao ponto histórico mais baixo. Sobre os dados de antes de 60, também inéditos, o pesquisador diz que ainda não tem uma interpretação definitiva sobre a queda da desigualdade: era um ciclo democrático, de substituição de importações, de urbanização. Uma pista é que na Argentina, também uma economia primária em transformação, o comportamento é parecido.
"O que os dados do Pedro (Souza) estão mostrando é que o caso brasileiro, de certa forma alinhado com o caso argentino, sinalizam que as explicações clássicas da desigualdade talvez não sirvam para todos os países do mundo. Talvez a gente precise de um outro tipo de explicação. Talvez não exista uma explicação geral, mas sim explicações locais", diz Medeiros, seu orientador na UnB.
Assim como nos anos 60 e 70, os 80 são de alta da desigualdade mais uma vez, mas, pondera o pesquisador, há “ruído” na tabela por causa da hiperinflação. É possível, afirma, apontar que a partir de "algum momento dos anos 1990", já na democracia, a desigualdade começa a cair.
Ciclos políticos e Governo Lula
Parte dos dados tributários, usados em trabalhos conjuntos dele com Medeiros e Fabio Castro, também complexifica a trajetória da desigualdade na era Lula-Dilma. Se as medições baseadas na PNAD mostraram uma queda da desigualdade depois de 2001, os números calculados com base nos dados tributários mostram uma estabilidade (mesmo na PNAD, há estabilidade em 2012 e 2013 no índice). Ou seja: pode ter havido redistribuição de renda, e consequente maior bem-estar, para grupos da base da pirâmide sem que isso tenha mexido na fatia relativa ao 1% mais rico. Por causa disso, na tabela da desigualdade no topo, há pouca alteração. O dado que contestava a narrativa sobre queda de desigualdade sob Lula provocou controvérsia durante as eleições presidenciais no ano passado.
“A pergunta que mais me fascina é: sob que condições sociedades democráticas e capitalistas conseguem redistribuir renda? A ênfase da literatura de top incomes é no papel de choques mais ou menos exógenos, principalmente a Segunda Guerra, para a queda da desigualdade”, conta Souza. Ele lembra que, ao contrário do que o senso comum pode induzir a pensar, os países desenvolvidos tiveram, no começo do século 20, patamares de desigualdade próximos ao dos países latino-americanos e do Brasil na mesma época. Agora, as taxas se afastaram: enquanto o 1% mais rico na França tem 10% da renda, nos EUA a taxa é de 20%. No Brasil, 25%, a mais concentrada e desigual entre as grandes economias para as quais há dados.
“Não há casos bem conhecidos de países que tenham saído de um nível brasileiro e gradualmente, sem sobressaltos ou catástrofes, tenham chegado a níveis de desigualdade franceses, por exemplo. Não quero soar pessimista, talvez inventemos algo para resolver isso”, lança o pesquisador, sem muita convicção. É um pensamento sombrio, ainda mais quando o país em crise discute como sair do maior retrocesso do PIB em 25 anos sem perder o que avançou em termos de combate à desigualdade e pobreza no período.
Fonte: El País Brasil